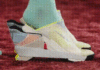Dois poetas mineiros estão com livros novos. Fabrício Marques lança “A Máquina de Existir”, enquanto Lucas Guimaraens publica “Exílio — O Lago das Incertezas”.
Marques é autor também de um livro que cartografa Belo Horizonte, “Uma Cidade se Inventa”, finalista do Prêmio Jabuti de 2005, em que insere escritores e poetas no mapa da capital mineira. Além disso, o poeta nascido em Manhuaçu publica em revistas e veículos especializados.
Guimaraens, nascido em Belo Horizonte, tem a poesia no sangue. É bisneto do poeta ouro-pretano Alphonsus Guimaraens (1870-1921). Atua também como superintendente de Bibliotecas Públicas e Suplemento Literário de Minas Gerais e escreveu o livro “33,333 — Conexões Bilaterais”.
Para falar dos novos livros, o Boas Novas MG fez um convite aos poetas mineiros. Cada um preparou cinco perguntas direcionadas ao colega, uma troca de entrevistas entre dois representantes das letras mineiras.
Os poetas mineiros falam de “A Máquina de Existir” (editora Pedra Papel Tesoura) e “Exílio” (editora Relicário), de poesia, Minas, cultura, entre outros temas.
As perguntas e respostas dos poetas mineiros você ler a seguir.
“Minas é muito presente no que escrevo”
Para começar, Lucas Guimaraens pergunta a Fabrício Marques.
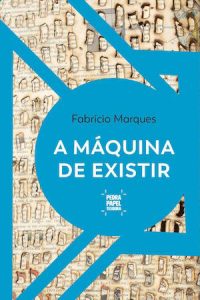 Lucas Guimaraens — Fabrício, qual o mote principal de seu novo livro? Percebe-se uma nítida voz social e uma coalizão do individual e do coletivo. Como resolveu isso esteticamente?
Lucas Guimaraens — Fabrício, qual o mote principal de seu novo livro? Percebe-se uma nítida voz social e uma coalizão do individual e do coletivo. Como resolveu isso esteticamente?
Fabrício Marques — Lido rapidamente, o nome do livro pode remeter, de modo irônico, à “máquina desistir”. Diferentemente disso, o livro propõe, talvez, uma existência que se define pela resistência, que é, afinal, uma substância que constitui a poesia. Essa visão de mundo pressupõe uma ética, que se define pela tomada de consciência, primeiro, desse caráter de resistência (a se moldar a um consenso, a se transformar em mercadoria, e assim por diante); e, em segundo lugar, de buscar esse pacto entre o individual e o coletivo a que você se refere. É claro que esse pacto não se dá sem atritos, mas essa é a beleza da coisa, ou seja, perceber as diferenças, as diversidades, e de como o poético pode ser um espaço de diálogo e de reflexão para pensar essas questões. Esteticamente, os poemas, do ponto de vista formal, são a representação gráfica dessa resistência e dessa ética, na medida que se apresentam em diferentes formatos e perspectivas.
LG — Você, jornalista, servidor público, pai… por que a poesia?
FM — Quando eu tinha 17 anos, li aquele soneto de Cláudio Manoel da Costa, que começa com os versos “Destes penhascos fez a natureza/ O berço, em que nasci”. Eu me lembro que foi muito marcante o ritmo, a musicalidade desse poema. Eu tive contato ali, pela primeira vez, com essa forma de se expressar, e, desde então fui estimulado (por mim mesmo) a desenvolver um interesse permanente pela poesia que transtorna, que transforma e que, eventualmente, pode nos fazer seres mais humanos. E que estabelece vasos comunicantes com as demais atividades que assumimos ao longo da vida.Trabalhar com poesia, por exemplo, de alguma maneira me ajudou a fazer um tipo de jornalismo que intervém na vida das pessoas, um tipo de ensino que vai na mesma direção.
LG — Qual o papel do contexto (o de Minas Gerais, sobretudo) na sua escrita? Você realizou um belíssimo trabalho de memorialismo. “Uma Cidade se Inventa”. De que maneira estes estudos alteraram (se alteraram) sua criação?
FM — Lucas, meu camarada, obrigado pela referência a “Uma Cidade se Inventa”. Foi um trabalho que levou quase uma década e que me permitiu mergulhar na relação estabelecida entre essa capital tão jovem e sua relação, desde o nascedouro, com escritores. Ao final desse estudo pude constatar que Belo Horizonte é o que é, mais do que qualquer outra característica, pela sua profunda ligação com a literatura. Agora, não necessariamente a produção desse livro impactou diretamente os poemas que escrevi depois, mas certamente essa experiência resultou num conhecimento melhor de Minas Gerais. Minas é muito presente no que escrevo, mesmo indiretamente. Costumo brincar que sou um poeta provinciano porque não consigo sair geograficamente do Estado – morei em Manhuaçu, em Juiz de Fora e moro em Belo Horizonte. A última seção do livro chama-se justamente “Duas visitas a Minas”.

LG — Podemos dizer que há dois prismas de compreensão do fazer literário: o imanentismo norte-americano (como em Elliot etc) e o conceito de contexto e realidade dentro da literatura, ideia defendida sobremaneira por Jacques Rancière. Um apregoa a estética como o fim em si; o outro entende a estética como uma forma política de inserção e alteração da realidade. Como você lida com essas questões em sua poesia? Qual seu campo de batalha?
FM — Minha dissertação de mestrado, sobre a poesia de Paulo Leminski, traz uma análise imanentista, nos moldes propostos por Eliot. Naquela ocasião, em meados dos anos 90, eu estava impactado por essa forma de “entrar” nos poemas. Hoje, depois de estudar algumas teorias de literatura e o pensamento crítico de autores como Antonio Candido (para ficar num só exemplo), considero bastante sedutor o conceito de “partilha do sensível”, no qual Rancière defende a dimensão estética da política, quando é possível vislumbrar a multiplicidade de manifestações dentro de uma comunidade. Nesse ponto, fico também com a proposta utópica de Barthes: “quantas linguagens quanto desejos houver”.
“Nuvens, montanha
Estação de trem desativada
O progresso bem ali na esquina
Tempos que correm pelo mesmo trilhoNo outono, esperar pelo inverno
No inverto, esperar pelo outonoAs nuvens têm sempre razão
A montanha liberta”
LG — Como você vê esse processo de vanguardas brasileiras ao longo do século 20 (notadamente o Concretismo) e 21 em desfazimento de tradições ou apropriação antropofágica das mesmas? Como isso é harmonizado em sua obra? A poesia tem futuro?
FM — Eu tenho uma grande dívida com o Augusto de Campos tradutor. Sabemos que é impossível traduzir, que a poesia “é o que se perde na tradução” etc, mas tenho a impressão de que, se os poemas traduzidos por Augusto tivessem sido criados em português, seriam exatamente do jeito que ele os traduziu. Hoje já podemos falar na tradição das vanguardas, ou seja, as vanguardas já foram incorporadas à tradição, o ciclo histórico delas já esgotou-se. Mas, paradoxalmente, quem trabalha com poesia tem a veia utópica afiada, precisa pensar que tudo já foi dito, mas ao mesmo tempo o novo sempre vem. Assim, não é que a poesia tenha futuro: ela é o próprio futuro que se faz presente em nosso cotidiano. Nossa tarefa é permitir, no meio desse tempo de trevas, que ela tenha espaço e lugar na vida das pessoas.
“Sou uma colcha de retalhos”
A seguir, Fabrício Marques pergunta a Lucas Guimaraens
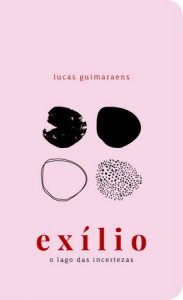 Fabrício Marques — Você vai lançar agora seu novo livro, “Exílio – O Lago das Incertezas”. Logo na epígrafe de Silviano Santiago, podemos apreender uma dupla face do exílio, uma mais subjetiva e outra objetiva, que denuncia a miséria e a injustiça. De que forma a poesia pode nos ajudar a sobreviver e resistir às diferentes formas de exílio e violência deste século 21?
Fabrício Marques — Você vai lançar agora seu novo livro, “Exílio – O Lago das Incertezas”. Logo na epígrafe de Silviano Santiago, podemos apreender uma dupla face do exílio, uma mais subjetiva e outra objetiva, que denuncia a miséria e a injustiça. De que forma a poesia pode nos ajudar a sobreviver e resistir às diferentes formas de exílio e violência deste século 21?
Lucas Guimaraens — A poesia, penso, é um acaso de intuições. Ou, como Michel Foucault explanava sobre a literatura em geral, trata-se de uma linguagem da desrazão, ou seja, ela não se encontra fechada em métodos científicos que tendem a levar-nos a certa conclusão. A poesia, assim compreendida, nos mostra caminhos de resiliência: literária, mercadológica (a poesia vende?) e de construção de um senso de realidade diferente dos manuais acadêmicos. Penso, então, que a poesia serve como este não-lugar, um certo trigger point para o raciocínio e apreensão críticos que vai — usualmente — contra historicismos, escolásticas etc. Em resumo: o que ela nos traz, sobretudo, é o pensar diferentemente. Se isso é verdade, ela vai contra a mídia de massa que tende a absorver e manipular informações a serviço de um ou outro campo e tende a neutralizar a voz do outro. O não-lugar poético torna-se, assim, o lugar também de batalhas mentais que podem servir de substrato para as batalhas reais.
FM — O livro teve uma edição anterior em francês. Como você também morou em Paris, pode-se dizer que ele é o resultado de suas vivências nos dois países, França e Brasil? Como isso aparece nos poemas?
LG — O livro teve uma primeira edição em francês pela L’Harmattan, em 2017. No entanto, esta edição brasileira, pela Relicário Edições, comporta alterações e novidades. O livro, claro, retoma a questão de (não)pertencimento a lugar algum. Isso é fruto de minhas experiências nos dois países mencionados, mas também dos outros pelos quais passei, seja por projetos da Unesco, seja por outras agendas. A questão é que, após morar anos fora, um fenômeno também ocorre: a sensação de ser estrangeiro, logo exilado, dentro do próprio país. E isso me leva a pensar nos brasileiros estrangeiros dentro do Brasil: as ditas minorias sócio-cultural-econômicas, por exemplo. Em suma: se a experiência de vida no exterior me colocou pela primeira vez frente a esta sensação de alteridade de minoria, ela também serviu de uma lupa de aumento sensorial para as próprias desigualdades e/ou realidades que vivemos diariamente.
FM — Depois de “Onde” e “33,333 — Conexões Bilaterais”, este é seu terceiro livro de poesia. Olhando para esse conjunto, você percebe um fio condutor, alguma unidade entre eles?
LG — Há, talvez, algumas ilhas de unidade. Uma delas remete ao que dá ensejo à escrita. Parto de vivências (reais ou imaginárias) para a construção das ideias. Outra ilha de unidade é a que se refere à decisão do caminho estético. Parto sempre do absurdo e da oposição de ideias ou de ideias que não se complementam linearmente para a construção frasal. Há também temas recorrentes: desencontros, a loucura do mudo hiperconectado e a falsa impressão de quebra de fronteiras — o que me causa espanto e medo —, o mar e o naufrágio – que me causam o mesmo espanto que o mundo virtual das redes sociais etc. Tudo é mar e tudo é naufrágio, de uma certa forma. Ao mesmo tempo — e como é natural da escrita poética —, há sempre um processo laboral. Nesse sentido, talvez o “Exílio” seja a conclusão de um processo dialógico entre os extremos experimentais com a linguagem e a percepção de uma escrita mais simplificada e, espero, não menos poética.
“O exílio diz todas as palavras do poema
ruas que se fendem com o tempo
passos de vidro em brita quente
o exílio palavra sem pronúncia
prédio de labirintos e derramamentos.
corrimão de incertezas sob os dedos da saudade.”
FM — Bernardo Guimarães, Alphonsus de Guimaraens, João Alphonsus, Alphonsus de Guimaraens Filho e Afonso Henriques Neto: uma linhagem de poetas no sangue. Qual o peso (ou a leveza) dessa herança familiar na sua poesia? Com qual desses nomes você tem mais afinidade poética?
LG — Desde a minha primeira infância, já tive a oportunidade de ver a literatura dessacralizada, fora das torres de marfim. Ela era (e é) de carne e osso. Aos 3 anos de idade, apresentei para minha mãe, quando ela tomava um banho de sol no quintal da casa, um primeiro poeminha (ou imaginava que ele seria um): “Tem a lua colorida/Azul, amarela e vermelha/E o santinho está lá sozinho no arco-íris/E a menina, que era muito grande/Buscou ele”. Depois disso, veio aquela enxurrada de leituras. Alphonsus de Guimaraens Filho sempre me indicava livros, falava da importância de aprender outras línguas (formas de pensar). Tenho uma vasta troca de cartas com ele (eu, em Belo Horizonte; ele, no Rio). Com Afonso Henriques Neto, aprendi uma certa linguagem nova. Ele — como seu pai, Alphonsus Filho — recebia meus poemas e os cortava todos, alterava os sentidos, a ordem das palavras. Via, ali na minha frente, a própria noção de poesia em exercício. Foi ele também que, em diversas conversas, me apresentou o simbolista Alphonsus no seu alto teor da linguagem. Antes ele era apenas um parente, meu bisavô. Costumo dizer que nascer nesta linhagem é uma sorte e uma sina. Sorte porque a escrita criativa — tão longe de diversas realidades — tornou-se para minha história uma possibilidade de existência. Sina também, porque é inevitável comparações. E como ser comparado com esses nomes? Você começa o jogo com um déficit de gols pela eternidade afora, há sempre uma maior necessidade de se desprender da linguagem dos escritores da família sem perder, ao mesmo tempo, a voz própria. É uma dicotomia que já me assombrou. Hoje, não mais. Sobre afinidade poética, impossível dizer. Aprendi a construção de versos com o simbolista; a questão social com Bernardo; o sentimento de humanidade com João; o lirismo como cerne da poesia com Alphonsus de Guimaraens Filho; a compreensão perfeita de escrita contemporânea com Afonso Henriques Neto. Ou seja, sou uma colcha de retalhos. E não só dos escritores-parentes, mas de vários escritores e leituras que subjazem à minha própria escrita.

FM — Você já disse da importância do conceito de transculturalidade, desenvolvido pelo filósofo Jacques Poulain, “contaminar-se pelo outro para suprir suas próprias lacunas”. É possível entender o Brasil a partir desse conceito?
LG — Creio que a transculturalidade não é uma forma de entendimento, mas uma forma de vida, de sociedade a ser compreendida para ser alcançada. O Brasil poderia ter sido esse país. Nossos modernistas, a partir da antropofagia cultural, começaram essa batalha de entendimento. Íamos relativamente bem. Hoje, o sectarismo é a tônica, o que dificulta qualquer diálogo transcultural. Como você disse, “contaminar-se pelo outro para suprir as próprias lacunas”. O pressuposto da transculturalidade não é — como alguns apregoam — o esvaziamento das políticas afirmativas de identidade. Pelo contrário. É leva-las a seu ápice e, a partir daí, iniciar um processo de autorreflexividade que nos levaria a não somente tolerar o outro, mas querer compreendê-lo a fim de suprir aquilo que nossa cultura nos alijou de entendimento. Ora, há muito o que se aprender com o sentido de comunidade no Oriente, a questão do coletivo. Aqui, parece-me que os direitos individuais se tornaram a marca régia da sociedade. Isso é grave. Acaba por se tornar uma entrada para o personalismo (dos homens públicos, de qualquer homem em vida na sociedade etc). É uma ideia mal feita de sociedade. Ao mesmo tempo, a transculturalidade é uma crítica ao estrito multiculturalismo. Se pensarmos na Alemanha pré-nazista, o multiculturalismo estava presente. A construção da Alemanha já possui, a partir de certo momento, esses pilares. No entanto, o multiculturalismo levava a um conceito de tolerância ao diferente e não de diálogo com o diferente. A história já nos contou (e parece nos contar novamente, em terras tupiniquins) como se dá os desdobramentos de uma visão como esta.